Por Manuela Ferraro
Da etnia tutsi, Beatha Uwazaninka perdeu 80 membros da sua famílias no massacre de 1994
Na infância, Beatha Uwazaninka ouvia sua avó falar sobre planos de deixar Ruanda e ir viver com seus outros filhos em Uganda. Quando tinha 7 anos, em 1987, a mãe de sua mãe chegou a vender a terra em que elas viviam na cidade de Bugesera, no sul do país, para partir.
Numa noite, porém, ela acordou com pessoas invadindo a casa. Sua avó foi morta com golpes de martelo. Pela manhã, procurou vizinhos e, com eles, achou o corpo da anciã numa vala.
Uwazaninka entendeu o que significava ser tutsi, uma minoria étnica de Ruanda que anos depois seria alvo de um genocídio no país.
Embora as etnias existissem na região desde antes da era colonial, a administração belga fixou a diferenciação entre os grupos tutsi, hutus e twas em documentos de identidade, privilegiou os primeiros e acirrou ressentimentos entre as classes. Hutus tomaram o poder no processo de independência, e ondas de conflitos continuaram nas décadas seguintes.
Os planos de sua avó de mudar para Uganda faziam parte da vontade de fugir da discriminação e da violência. Vez ou outra, tutsis apareciam mortos em arbustos ou flutuando nos rios, e a impunidade era regra.https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2024/04/06/rx-ruanda/#amp=1
Na escola, Uwazaninka lembra que, nas aulas de história da escola primária, professores pediam que tutsis ficassem em pé, para logo em seguida demandarem que hutus fizessem o mesmo. Era ensinado que tutsis eram maus. No fim do dia, as crianças brigavam umas com as outras, replicando conflitos étnicos.
Em 1994, ela soube apenas no dia 7 de abril, pelo jornal, que o avião do presidente hutu Juvenal Habyarimana havia sido abatido na véspera. Na semana anterior, havia ouvido pela Rádio Libre des Milles Collines (estação que incitava o extermínio de tutsis) que algo grande aconteceria. Era o início do genocídio.
Ela estava na capital, Kigali, na casa de um tio. Barricadas foram montadas por toda a cidade. Extremistas hutus iam de casa em casa, matando tutsis. Até que apareceram na casa de seu tio, que foi assassinado junto com os outros familiares. Ela escapou pelo jardim dos fundos.
Para Uwazaninka, foram cem dias fugindo da morte. Às vezes, quando saía para buscar água ou comida, precisava se esconder entre os corpos nas ruas. Viu pessoas cavando as próprias covas.
Ela lembra com carinho de um homem muçulmano hutu, chamado Yahaya, vizinho da casa onde ficou hospedada durante o genocídio. Uma vez, quando Uwazaninka fugia de um membro da milícia Interahamwe, Yahaya se colocou na frente dele e disse que o extremista teria que matá-lo primeiro antes de fazer mal à garota.
O homem os deixou, lastimando-se. Yahaya se tornou conhecido em Ruanda por esconder 30 tutsis em sua casa durante o massacre. Após o genocídio, Uwazaninka nunca mais viu sua mãe, de quem se separara pouco antes do genocídio para passar um tempo na casa do tio. Perdeu cerca de 80 membros de sua família.
Passados 30 anos, Uwazaninka diz que Ruanda é um país bem diferente. “O que sentimos hoje é a segurança, sentimos que temos um país que protege os sobreviventes, que faz o possível para melhorar a vida da população.”
Ela vive hoje em Nottingham, na Inglaterra, tem um casal de filhos e trabalha no serviço público, mas visita a terra natal com frequência. Não sabe dizer se ruandeses se sentem felizes, já que o trauma ainda é presente.
Ela não sente que o processo de reconciliação tenha terminado e defende que a justiça é um processo contínuo. “Nós ainda estamos descobrindo restos mortais do nosso povo. Enfrentamos a última fase de um genocídio, que é o negacionismo. Há perpetradores que fugiram e vivem na Europa, nas Américas, em todo o lugar”, diz.
O que sobreviventes mais necessitavam, afirma Uwazaninka, era a verdade sobre o que havia ocorrido, o que em parte foi provido pelos tribunais gacaca (lê-se gachacha). Montadas ao ar livre, essas cortes tinham como juízes líderes comunitários. Sobreviventes descobriam o que tinham passado seus conhecidos, ao mesmo tempo em que autores do massacre podiam mostrar remorso e pedir perdão à comunidade.
“Eu ainda tenho esperança de que um dia alguém me conte o que minha mãe disse antes de morrer, ou como ela se sentiu. Eu queria que alguém me contasse. Um dia vou conseguir essa justiça? Eu duvido.”
Publicado originalmente na Folha de S.Paulo.


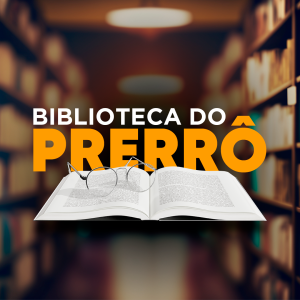


Deixe um comentário
Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios estão marcados com *