Por Lilia Moritz Schwarcz
O Brasil foi “inventado” pelos colonizadores europeus a partir de uma tecnologia da violência. Junto com o projeto colonial criou-se a escravidão mercantil, que pressupunha a posse de uma pessoa por outra. Por isso, só foi possível sustentar um sistema tão perverso, na base da violência diária e naturalizada contra as populações indígenas e negras.
Recebemos quase a metade dos africanos e africanas que tiveram que deixar, compulsoriamente, seu continente de origem, e distribuímos essa população, de cinco milhões de pessoas, por todo o território, dos séculos 16 ao 19. Fomos o último país a abolir a escravidão e só o fizemos depois dos Estados Unidos, Cuba e Porto Rico, com uma lei conservadora que não previu inclusão social.
Quando o sistema escravocrata já estava no final, foram também as populações dirigentes brancas que introduziram as teorias do darwinismo racial, as quais estabeleciam que a diferença entre as raças seria biológica e não histórica. Criamos, ainda, teorias do branqueamento que pressupunham que em três gerações os brasileiros seriam brancos; gregos até.
“Produzimos, então, um racismo marcado pela cor e pela origem, que segmenta a população na base do estereótipo físico, associado a um passado africano. Racismo tem cor e endereço no Brasil.
Nos anos 1930 criamos uma imagem externa do país que em nada correspondia à realidade: a ideia de que vivemos numa democracia racial, que distribui igualdade de oportunidades a todos.
Essa é uma balela nacional desmentida pelas pesquisas oficiais que mostram como as pessoas negras morrem mais e mais cedo, ganham menos para desempenharem as mesmas funções, tem menor acesso à educação, à saúde, à moradia e aos transportes. Não somos apenas vítimas do legado pesado do passado; agimos cotidianamente para reforçar uma forma de racismo que estrutura a nossa sociedade.
Todas essas teorias, amparadas por um esquema repressivo muito bem montado, fizeram com que, por aqui, os grupos dirigentes silenciassem e tornassem invisíveis diferenças e processos de subordinação.
“Fizeram ainda com que as elites dirigentes se dessem ao luxo de ‘ver’, mas fizessem questão de não ‘enxergar’ as atrocidades cometidas pela polícia, que tem nas populações negras seu principal alvo.
Os jornais do século 19 publicavam, todos os dias, anúncios de fuga, venda, leilão, e seguro de escravizados, sem que ninguém se incomodasse com essa tentativa de desumanizar os corpos negros. Já hoje em dia andamos anestesiados diante da dor dos “outros”; que têm origem afro-brasileira e que moram nas periferias das cidades. Eles viraram estatística negativa.
Kathlen Romeu, que tinha 24 anos e trabalhava como designer de interiores, morreu na comunidade do Lins, na tarde desta terça-feira (8). Ela foi vítima de bala perdida numa ação da Polícia Militar na comunidade do Lins, na zona norte do Rio. Segundo moradores, ela foi assassinada durante o confronto com policiais da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) Lins.
Mais um assassinato sob o guarda-chuva da segurança e da proteção públicas. Segurança e proteção para quem? Não para Kathlen e outras milhares de pessoas covardemente assassinadas por forças que deveriam cuidar da população.
Já a Polícia Militar, em nota pública, informou que “os agentes foram atacados a tiros por criminosos na localidade conhecida como “Beco da 14″, dando início a um confronto”. Agentes alegaram também que apreenderam um carregador de fuzil, munições de calibre 9mm e drogas. Essa é uma nova, velha história.
“Desde que o Brazil (com z) é Brasil (com s) assistimos impávidos a essa matança de pessoas negras, que tem número de guerras civis como os da Síria e do Afeganistão. Por sinal, abrigamos a polícia que mais mata e mais morre; o que nada resolve se continuarmos a permitir esse genocídio com local prévio.
Pretos e pardos — segundo dados e termos do IBGE — correspondem a 54.2% da nossa população de 212 milhões de pessoas. Não são, pois, minoria em nosso país. Mas são “maiorias minorizadas” nos direitos, na representação, no acesso à infraestrutura e à segurança.
“No século 19, se matava e prendia por ‘suspeita de escravo’; hoje o termo genérico é ‘bala perdida’.
Kathlen estava grávida de quatro meses. No seu perfil do Facebook, postou, horas antes de ser baleada: “Bom dia Neném”. Nas mídias, a futura mãe não disfarçava a sua alegria diante do futuro que a aguardava. Dizia estar “totalmente grávida”, com fome e desejos. Desejos de vida.
“Dizem que pessoas negras morrem duas vezes: fisicamente e na memória. Kathlen Romeu tinha nome caprichado e uma vida toda pela frente, junto com seu bebê e o namorado. Seu caso não é uma exceção diante desse que é um projeto de Estado; só se for a ‘exceção que confirma a regra’.
Quando escravizados entravam no país tinham logo seu nome apagado e ganhavam outro, escolhido pelo senhor. Nas fotos do Oitocentos, amas de leite apareciam ao lado de seus pequenos senhores. Eles tinham nome, elas não.
Não podemos deixar que o nome de Kathlen Romeu caia no esquecimento e na vala comum das estatísticas. É preciso falar e lembrar de Kathlen, pois no Brasil a memória é uma forma de insubordinação e de resistência.
Artigo publicado originalmente no Universa.


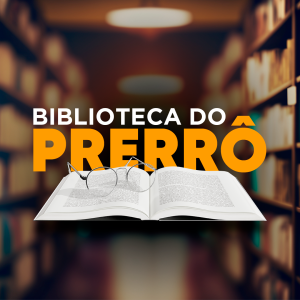


Deixe um comentário
Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios estão marcados com *